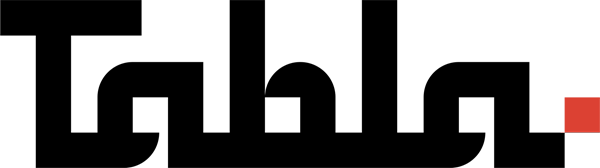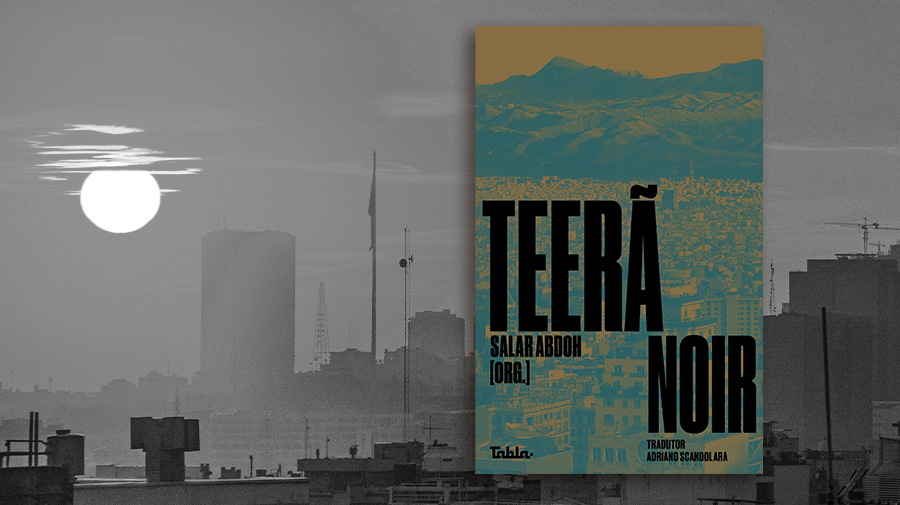Abaixo, leia o texto de introdução do livro Teerã noir, escrito pelo organizador da coletânea de contos sombrios ambientados na capital do Irã, Salar Abdoh.
Minha mãe contava que na época em que meu pai a levava a um dos cabarés da velha Teerã (eram raras as vezes que isso acontecia), era hábito os caras durões — os lutis —, os chefões, os caras das brigas de faca, os lutadores tradicionais, esparramarem seus paletós e casacos no chão para ela andar por cima. Era um gesto de respeito supremo por um dos seus. E diz muito sobre a Teerã que não existe mais: a do cavalheirismo e da lealdade, um lugar onde a deferência significava alguma coisa, onde a amizade remetia ao mundo clássico dos guerreiros do grande épico persa, Chahnameh (Livro dos reis), de Ferdowsi, e à noção do islã medieval de uma irmandade ayyar no Irã e na Mesopotâmia, onde o bandido e o defensor do povo eram uma coisa só, e onde cada pessoa seguia um código de honra escrito em pedra.
Ou talvez tudo isso seja apenas nostalgia, anseio por algo que nunca existiu, nem naquela época. “Naquela época” significa um tempo anterior à Revolução Islâmica de 1979. Esse evento divisor de águas se instalou na mente de todos os iranianos feito um precipício, um tipo de “ano primeiro”, a partir do qual tudo que é bizarro passou a ser lei. Os oito anos da guerra brutal contra o Iraque — a guerra convencional mais longa do século 20 —, as pressões persistentes dos EUA em sua própria e duradoura “guerra crepuscular” contra o Irã, a corrupção oficial da nova classe governante e a inflação descontrolada transformaram todos em “trabalhadores noturnos”. Viver uma vida honesta não era mais opção. Prostituição, roubos, uma explosão no tráfico de drogas e no vício, a pilhagem de matéria-prima e de tesouros históricos nacionais — além da propina endêmica e descarada — tornaram-se um modo de vida. Ao mesmo tempo, Teerã foi crescendo mais e mais, até se tornar uma megacidade, hoje com quase quinze milhões de almas desgarradas — um leviatã que mal para em pé, um purgatório de engarrafamentos, poluição implacável, barulho, raiva e iniquidade, cercado pelas paisagens das montanhas mais belas do mundo.
Teerã é uma justaposição de feiura e beleza que parte o coração. Um lugar onde não apenas uma, mas duas dinastias ineptas chegaram a fins miseráveis e onde, pode-se dizer, a terceira revolução mais importante da história (depois da francesa e da russa) teve lugar. É também a cidade onde Churchill, Stalin e Roosevelt se reuniram para repartir o mundo, enquanto ainda ardiam as chamas da Segunda Guerra. E é onde foi posto em ação um dos primeiros golpes manipulados pela CIA (com envolvimento e apoio dos ingleses — quem mais?) contra um governo democraticamente eleito, desencadeando anos de uma ditadura que, por sua vez, foi varrida pela primeira fúria real de um islã fundamentalista, um prenúncio do mundo em que vivemos hoje e chamamos de “pós-11/9”.
Em outras palavras, há algo de absolutamente espetacular e, ao mesmo tempo, definitivamente desgraçado a respeito de Teerã. Mas a maioria dos escritores do mundo, cada um em sua própria e extensa metrópole, tem a inclinação de pensar que sua cidade é a capital de todos os vícios e crimes imagináveis, de amores e ternuras impossíveis, de crueldades e perversões em graus que raramente existem em algum outro lugar. Para mim, com Teerã não é diferente, exceto que há mesmo uma diferença aqui: a cidade pode ser um antro de decadência, um covil de iniquidade, tudo isso, mas ainda assim existe, sob o olhar vigilante de uma entidade sem igual, a República Islâmica. A cidade impõe a sua própria polícia moral e o espetáculo de enforcamentos públicos de traficantes e ladrões é constante. Por conta disso, existe a intensa sensação de uma dupla personalidade nesse lugar — os ares de decoro impostos pela mesquita, esfregando-se contra os ritmos ocultos (e, com mais frequência, não tão ocultos) da cidade real. No começo de cada dia e especialmente no fim das noites, Teerã continua sendo um monstro esquizofrênico, sempre em conflito consigo mesmo, sempre tentando descobrir qual será o próximo padrão no qual a cidade não se encaixa, ou se encaixa mal.
Nada disso, claro, é atenuado pelo fato de que o Irã calha de ser um dos maiores corredores do planeta para o transporte de drogas. As vastas lavouras de ópio do Afeganistão, transformadas em heroína, precisam de rotas de trânsito para chegar aos mercados europeus, enquanto o Irã por si só continua sendo um grande fornecedor de metanfetaminas. O país e sua capital desmazelada se assentam nas encruzilhadas do mundo: ao norte paira o espectro, sempre atemorizante, da Rússia; ao oeste, há a Turquia e os portões da Europa; ao sul, ficam o Golfo Pérsico, as terras árabes e a imensidão que é a África; e ao leste e sudeste, estão a Índia e o restante do grande continente asiático. Cada um desses lugares já teve domínio sobre o Irã em algum ponto da história. Cada um deles deixou sua marca indelével. E basta atravessar o país para travar contato com uma dezena de idiomas e nuances de cores e de aparências. E tudo isso converge, inevitavelmente, para a cidade de Teerã, impregnando-a e abortando-a, dando-lhe vida e destruindo-a, por vezes também orando por sua redenção.
Era de se pensar que um terreno tão fértil tivesse fornecido, no passado, a matéria-prima para obras de ficção poderosas. Porém, não é bem assim. Vale a pena mencionar aqui o motivo de tão pouco disso tudo ter sido explorado até agora: a censura. Esse ogro que assedia os escritores iranianos desde antes da revolução e os acossa muito mais depois. Antes de 1979, havia dois tipos de censura, em pontos opostos do espectro político: a censura previsível e narcisista da corte real; e os zurros reativos dos intelectuais de esquerda/comunistas que acreditavam que qualquer obra escrita que não estivesse a serviço das “massas” era burguesa, imprestável e, por isso, alinhada à realeza. Essa situação era particularmente desfavorável para a ficção de gênero séria de qualquer tipo — e é por isso que uma pequena pérola como Um elefante no escuro, de Qasem Hacheminejad, foi completamente ignorada.
Em todo caso, com o advento da República Islâmica, aquilo que na maioria das vezes não passava de um incômodo para os escritores e sua vida criativa assumiu proporções absurdas e insondáveis. Considere o típico veredito, a seguir, de um censor a uma frase em um manuscrito de obra infantil. Numa conversa entre a maçã e a pera, a maçã diz: “Morda as minhas bochechas vermelhas e veja o quanto sou deliciosa”. O Ministério da Cultura e Orientação determina que essa frase é: “Sexual demais. Provocativa demais. Precisa ser removida”. A partir desse pequeno exemplo, dá para imaginar o que os escritores iranianos tiveram que suportar ao longo dos últimos trinta e poucos anos. Imagine ter que escrever num universo alternativo, onde deve haver pouca interioridade genuína dos personagens, nenhuma menção a sexo, nenhuma exploração de temas sociais, nada de política e nada que passe a imagem de uma sociedade com algum conflito interno. Em tal universo, se um escritor não cometer suicídio ou simplesmente desistir de tudo para se tornar taxista (já conheci ambos os casos), é possível que recorra a um destes três modos de escrita que, infelizmente, teriam alguma chance de passar pelo olhar obtuso do censor: 1) simbologias fofas e indistintas com a intenção de dizer uma coisa, mas falando outra; 2) realismo mágico derivativo e batido em que todos os personagens e as respectivas mães ganham asas e saem voando sabe-se lá para onde; e 3) textos superficiais e sem vida, de angústia e egoísmo, com pouco contexto ou referência ao mundo perturbado lá de fora.
Em tal atmosfera, só começar a tentar escrever no modo noir — que encontra seu melhor formato num engajamento completo, ainda que ríspido, com o mundo — já seria um ato de coragem, um ato político. E é por isso que os autores chamados para esta coletânea são aqueles que já provaram da cidade e conheceram suas feridas. Eles representam Teerã em seu estado mais cru e brutal: Sima Saeedi e Majed Neisi, com seus retratos inimitáveis do cotidiano após uma guerra ou revolução; Mahsa Mohebali e Danial Haghighi desmascarando a vida no submundo da República Islâmica; Farhaad Heidari Gooran, Yourik Karim-Masihi e Lily Farhadpour mostrando a realidade dura e multicultural de uma cidade fervilhante que transborda preconceitos; Azardokht Bahrami e Javad Afhami revelando o peso lúgubre da religião; Mahak Taheri e Aida Moradi Ahani expondo a corrupção sistêmica e inescapável dos salões do poder; e Vali Khalili e Hossein Abkenar demonstrando a dureza e a sujeira que são a quintessência da capital.
Em cada conto, os leitores encontrarão mais de um tema que mencionei acima, quando não todos. Mas a narrativa de Teerã não estaria completa se não atravessássemos oceanos em, pelo menos, um conto, para aterrissar bem no meio do sul da Califórnia. Em Los Angeles, para ser preciso. No vale de Los Angeles, para ser ainda mais preciso. Após a revolução, o êxodo de muitos iranianos os levou por todo o globo. Mas não há nenhum lugar para onde afluíram com mais verve e a sensação de ter encontrado um lar longe de casa do que uma cidade muitas vezes chamada de “Teerangeles”. É para L. A., portanto, que o conto de Gina B. Nahai nos leva — esse outro Golias desajeitado que oferece ocasionalmente riquezas instantâneas, mas sonhos despedaçados na maior parte das vezes, a cidade do noir por excelência, onde as duas Teerãs, enfim, convergem. E é justo que o façam, já que ambas as cidades, Teerã e Los Angeles, se situam sobre grandes falhas tectônicas. O relógio está correndo para elas. Mas quem se importa com as terríveis previsões de terremotos e da aniquilação futura quando há dinheiro a ganhar hoje com a especulação imobiliária? Quem liga para o dia depois de amanhã?
Assim, é pegar o que der quando puder. É essa sensação de impermanência a respeito de um lugar — que se espera um dia ser engolido por inteiro e desaparecer — que conduz os habitantes de Teerã, a minha Teerã, a “pisarem com força no acelerador” — como dizemos em persa. Há sempre um elemento de fim do mundo a respeito dessa cidade. Uma sensação de se ter sido retirado da beira do precipício. Em outros momentos, eu a chamei de “cidade sísmica” — o santuário sísmico. Tudo isso vai ter fim, um dia. Sim. Talvez mais cedo que mais tarde. E, quando acontecer, por Deus, vai deixar saudades.
Salar Abdoh
Teerã, Irã
Julho de 2014