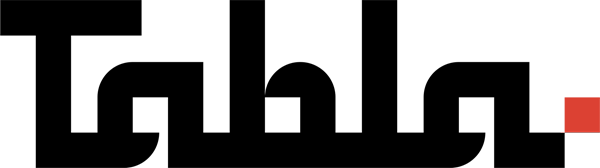Falar sobre tradução literária é, em certa medida, repetir o que já foi e tem sido dito em todos os níveis, seja no acadêmico, em teses e teorias, ou em outros menos formais (ainda que reguladores), no que se refere a procedimentos, técnicas e atitudes em geral, objetivando seu emprego na prática.
É inevitável não fazer reelaborações, principalmente no tocante aos desafios, de várias naturezas, que o tradutor enfrenta toda vez que mergulha num texto e tenta dele sair vivo, embora, na maioria das vezes, sem fôlego e com uma estranha sensação que se alterna entre dois estados de espírito: a euforia e o desalento, tendo ainda a missão de trazer à superfície um novo texto, reescrito, recontado ou recriado em outra língua e para uma cultura diferente. Além disso, a certa altura, esse texto terá de ser exposto a outros olhos e submetido à manipulação de outras mãos (editores, preparadores, revisores e consultores), e nessa transição da esfera individual à coletiva, tradutor e texto são afastados.
Fazendo parte dessas reelaborações, comenta-se ainda sobre o que se deve, ou não, fazer para que se chegue a um “bom” resultado, como se mediar uma negociação entre todos os atores envolvidos (textos, línguas, culturas) fosse fácil e resultasse numa série de critérios que pudessem ser classificados e descritos numa espécie de receituário. Todos sabemos que cada texto é mais de um, que uma língua tem vários rostos e que uma dada cultura é a manifestação de muitas, portanto lidar com tudo isso sem perdas nem decepções é quase impossível.
Tal multiplicidade de vozes, línguas e costumes grita mais alto quando falamos da tradução de textos árabes, textos produzidos num território que cruza mais de 20 países, estendendo-se ao longo de dois continentes, que abrigam diferentes costumes, tradições, etnias, confissões, etc. Ou seja, uma diversidade cultural gigantesca unificada pela língua árabe, cujas manifestações se dão a partir de culturas mescladas e por meio de muitas tonalidades da mesma cor, respectivamente, os dialetos e a língua árabe padrão.
Mas, eu quero aqui falar da angústia do tradutor, da minha angústia como tradutora de obras de literatura árabe moderna; sentimento que me acompanha a cada texto, desde as primeiras tentativas de flerte. E ele logo se torna arredio, se rebela e me domina; me invade, me ocupa e me assombra fazendo com que nosso convívio seja realizado através de um longo diálogo – muitas vezes difícil, tenso, conflituoso, repleto de negociações – sempre em prol da tão almejada paz, esta que, não raro, acaba ficando no plano do desejo apenas. Assim, do cordel das dúvidas, pegarei algumas peças para compartilhar com vocês:
Como ajustar o tempo de um idioma como o árabe, que só conhece dois tempos/aspectos do verbo, a uma língua, como a portuguesa, que oferece um leque de possibilidades nos três tempos (presente, passado e futuro)? Aqui, todos nós que traduzimos do árabe somos desafiados, pois com apenas um “amei” ou um “amo”, do árabe, temos de decidir se eu “amava”, “amara”, “amaria”, ou, ainda, se quando “estou amando”, na verdade, já não “teria amado”!
Como agir ao traduzir um universo cultural menos divulgado, ou ainda distante, mas não tanto, como é o árabe no Brasil?
Lançar mão de notas, que parecem desagradar mais aos editores do que aos leitores de um romance? E, ao fazê-lo, estaria eu menosprezando a capacidade do leitor de alcançar sozinho, e por seus meios, o significado deste ou daquele termo ou das expressões relacionadas com contextos específicos menos conhecidos — sejam do campo religioso, histórico, sociocultural ou regional, como o jejum do Ramadã e o sacrifício do Adha; a admiração de machalah e a bendição de issmallah; o louvor de sallallah e a súplica de inchallah; a catástrofe da Nakba e a repetida dor da Naksa; a abaya que não é uma simples túnica e o hijab que é mais que um véu; o tarbuch que não é só um chapéu de feltro, e a kafiyya, que não é apenas um lenço que cobre a cabeça do homem do Oriente Médio? E quem disse que o felah é um simples camponês e o fedaí um combatente qualquer? O xeique e o hajj nem sempre são homens santos, nem o jihad é uma guerra santa, e nem a zankha é um fedor como outro qualquer. O que fazer? Agrupar tudo isso e submeter como “Nota de Tradução” num texto objetivo que ainda possa esclarecer certas escolhas e opções tradutórias? Enfim, ao recorrer a paratextos numa tradução, estaria eu, como tradutora, admitindo minha derrota?
Como proteger um aldeão das montanhas do Líbano de se expressar com o sotaque caipira paulista, ou o beduíno do deserto de adotar o jeito mineiro de falar, ou um camponês egípcio da pronúncia nordestina? Onde encontrar um “interior universal” que possa acomodar os vários “interiores” árabes e suas distintas manifestações dialetais, que geralmente são um traço importante para a garantia da verossimilhança dentro de uma narrativa?
Essas são apenas algumas das muitas dúvidas que me atormentam e, imagino, atormentam a maioria dos tradutores da língua árabe. E não posso deixar de mencionar a contínua ginástica que todos os tradutores literários fazem durante o processo, passando para o lugar do autor e em seguida do leitor, tentando adivinhar as intenções do primeiro e prever a recepção do segundo, e tudo sem deixar de ser “fiel” ao texto!
Ah, outro termo que queria evitar, mas ele insiste em participar e se impõe toda vez que se fala de tradução. Ser “fiel” ao texto na tradução. Que diabos isso significa? Não participar, não acrescentar, não tirar, não mudar, não adaptar, não apagar, não reduzir? Em suma, ser invisível? E, assim, toda vez que este ser atormentado que é o tradutor se vê em um retiro solitário – acompanhado de seus dicionários, anotações e fantasmas –, o cordel que ele estende diante de seus olhos e no qual pendura suas interpelações vai ficando mais cheio e novas peças vão sendo adicionadas a cada texto novo.
Contudo, esse estado de aflição, de questionamentos e de reflexão faz parte do ofício da tradução, arte que, como as outras, tem como jogo a enganação – um jogo em que é tudo ou nada e onde o tradutor é também protagonista, comparsa do autor e sedutor do leitor. E foi neste sentido que Umberto Eco disse: “Traduzir é trair!”; dito esse que me remete a outro, do escritor (também italiano) Carlo Dossi: “As traduções de obras literárias ou são fiéis e só podem ser ruins, ou são boas e só podem ser infiéis.” Portanto, companheiros de angústia, neste nosso ofício, melhor mesmo é ser traidor, ser infiel!
Safa Jubran
Safa Abou-Chahla Jubran nasceu em Marjeyoun, Líbano, em 1962, e chegou ao Brasil em 1982. É professora livre docente na Universidade de São Paulo, onde leciona língua árabe desde 1992. Obteve os títulos de Mestre e de Doutor em Linguística na mesma universidade.