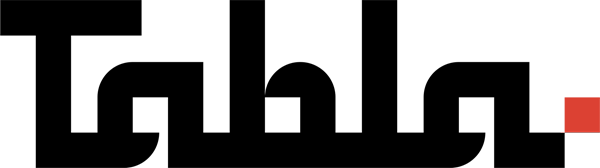A representação de mulheres do Norte da África e do Oriente Médio no mundo ocidental é um dos exemplos que demonstram como a visão etnocêntrica e colonial europeia foi eficiente em consolidar estereótipos. Durante os séculos XVIII e XIX, o racismo científico, pautado nos ideais de níveis de desenvolvimento de civilizações e povos, influenciou o trabalho de artistas e cientistas europeus que retrataram o “Oriente” em suas obras como um espaço exótico, selvagem e misterioso. Nesse cenário, pinturas como “Napoleão Diante da Esfinge” (1868) e “Encantador De Serpente” (1889), ambas de Jean-Léon Gérôme, ajudaram a reforçar características deturpadas do mundo árabe que são reproduzidas até os dias atuais: o homem primitivo, a geografia desértica e a mulher sexualmente disponível.
No livro “Orientalismo: O Oriente como invenção do Ocidente”, Edward Said argumenta justamente como essa imagética fez parte de um esforço colonial de dominação: indicando o cenário oriental como um espaço “livre” e, portanto, a mercê do colonizador, o Oriente poderia ser moldado, de forma a alcançar um nível mais elevado de “civilização”.
Leia também: A literatura árabe é também resistência!
Mais do que ocupar os territórios, o colonialismo europeu conseguiu ocupar o imaginário acerca dos elementos entendidos como “Orientais”: ao generalizar tudo o que não era europeu como “oriental”, a rica diversidade de povos e culturas de África e da Ásia foi aos poucos reduzida à imagens generalizadas, exóticas e selvagens, que são reproduzidas até os dias de hoje nas produções culturais e discursos ocidentais. Muitos são os filmes e séries que retratam o Oriente Médio, por exemplo, como uma região que só tem a oferecer ao mundo guerras e extremismo religioso, sem contar as lentes amarelas das câmeras que trazem o ar do ambiente desértico para as produções.
Quando se trata da representação da mulher árabe, as ações do colonialismo, do imperialismo cultural e do orientalismo trouxeram duas imagens que parecem opostas, mas que na realidade se complementam. Por um lado, temos a sexualização e mercantilização dos corpos femininos, ao fazer alusão às práticas culturais orientais como expressão da feminilidade exótica do Norte da África e Oriente Médio (a exemplo das dançarinas de belly dance no Egito, que são associadas à uma ideia de feminilidade exótica) e, por outro lado, há o reforço da ideia de que o Islã é uma religião opressora, que submete suas mulheres ao comando dos homens muçulmanos (que, cá entre nós, são tratados exclusivamente como homens machistas e inflexíveis) que irão impor o seu isolamento, seja por meio do hijab ou da reclusão em suas casas.
Em ambos os casos podemos observar a descontextualização histórico-cultural e a apropriação de elementos como a dança oriental e os véus para caracterizar a mulher árabe. Por mais que as duas representações pareçam ser controversas, há uma relação — e uma intenção — por trás que, novamente, reforça as noções de desenvolvimento civilizatório.
Saindo dos séculos XVIII e XIX, chegamos nos anos 1970 com a incorporação da dança do ventre (uma prática orientalista!) pelo movimento feminista estadunidense enquanto uma performance que se relaciona com as ideias de “libertação” e “empoderamento”. Para observar essa associação não é preciso voltar no tempo — basta uma pesquisa no Google para encontrar cursos de dança do ventre que prometem “despertar a feminilidade”. Porém, podemos nos questionar: essa feminilidade e empoderamento são sempre bem vistos ou só quando praticadas por mulheres ocidentais?
A mesma pergunta vale para o discurso que coloca a mulher muçulmana como um ser submisso a um homem (normalmente um pai ou marido). Se a religião é vista como algo imposto às mulheres muçulmanas e que, portanto, seria uma forma de opressão, por que para as religiões de matriz judaico-cristã não há a mesma preocupação de salvar as mulheres de um radicalismo religioso, supostamente imposto por terceiros? O discurso acerca da salvação das mulheres muçulmanas tomou força, indicando a agência feminina islâmica como omissa e frágil, em oposição à mulher ocidentalizada, supostamente empoderada. É interessante pensarmos que esse discurso traz a ideia de que as mulheres muçulmanas necessitam de ajuda externa para tomar consciência e se libertar das opressões. E essa ajuda vem (novamente) através do olhar do Ocidente: os brancos — agora na voz de suas mulheres — percebem a mulher muçulmana com um olhar de tutela que não é muito diferente do olhar do colonizador nos séculos XVIII e XIX.
Conheça o catálogo da editora Tabla aqui!
Vitória Bruno
Vitória Perpétuo Bruno é mestranda em História Econômica na Universidade de São Paulo. É membro do Tarikh: Grupos de Estudos em História Árabe/USP e foi organizadora do Curso de Extensão "Brazil and Palestine: Sources of Identification". Suas pesquisas são voltadas para colonialismos e movimentos anticoloniais nacionalistas e reformistas islâmicos, com ênfase nas relações de gênero no mundo árabe.