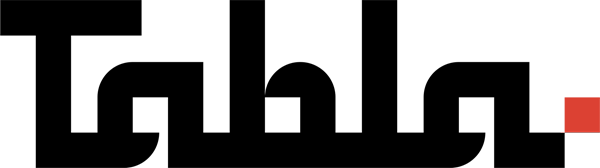Desde que este livro foi escrito, em 2017, muitas coisas aconteceram em Israel e na Palestina. No entanto, de muitas maneiras, os desafios para manter os dez mitos de Israel vivos no exterior permaneceram os mesmos. Velhos e novos mercadores dessa mitologia entraram em cena e trabalharam juntos em uma nova estratégia para legitimar os mitos. A nova estratégia vigorou durante o mandato de Donald Trump, e veio à tona em seu famoso “acordo do século”. Essa comercialização dos mitos foi menos sofisticada e muito mais nacionalista que as anteriores, e ignorou o lado palestino da história ainda mais que no passado.
O “acordo do século” de Donald Trump e as estratégias práticas e cotidianas de Benjamin Netanyahu representaram uma ameaça real para a existência da Palestina e dos palestinos. Tratou-se de um ataque coordenado, com potencial destrutivo equivalente ao da Nakba de 1948. Foi, em suma, uma tentativa de despolitizar a questão palestina e reapresentá-la como um problema econômico e humanitário, solucionável por meio do financiamento árabe e da bênção dos Estados Unidos.
Para compreender a magnitude e a gravidade dessa ameaça, é preciso examiná-la dentro de dois contextos gerais. O primeiro é histórico, e o outro, de natureza mais prescritiva, diz respeito ao futuro imediato.
Com o “acordo do século”, os Estados Unidos afirmaram sua visão do sionismo como um movimento colonial legítimo que, no século XXI, ainda é motivado por uma lógica que Patrick Wolfe definiu muito bem como “a eliminação do nativo”.
Historicamente, o acordo é o desdobramento de políticas anteriores de Israel e Estados Unidos em relação à questão palestina. Desde o início do assim chamado processo de paz, no final dos anos 1960, conformado como uma Pax Americana, os EUA se mostraram incapazes de atuar como um mediador honesto. Não obstante, cada um de seus governos e seus enviados se comprometeram — no papel — a seguir diretrizes baseadas nas leis internacionais, reconhecendo assim o caráter ilegal dos assentamentos e das tentativas de anexação de Israel, e condenaram publicamente as violações estruturais de direitos humanos nos territórios ocupados. Na prática, essas ressalvas jamais se traduziram em políticas concretas ou em algum tipo de pressão para que Israel modificasse sua conduta criminosa na região.
Essa posição ambivalente — que consiste em falar uma coisa e fazer outra — levou os Estados Unidos a defender publicamente a adoção de políticas para os territórios ocupados da Palestina ancoradas nas leis internacionais, ao mesmo tempo que garantiam imunidade — sobretudo pela inação — à crescente colonização israelense na Cisjordânia e na Faixa de Gaza (neste último caso, até a expulsão de 2006). Até o final do século passado, os principais partidos políticos em Israel seguiram uma abordagem semelhante e coordenaram minuciosamente suas políticas com as de Washington.
Desde o início deste século, em especial durante a era Netanyahu (iniciada com sua segunda eleição em 2009), o abismo entre discurso e ação, tanto dos EUA como de Israel, praticamente desapareceu. Os dois governos passaram a defender publicamente suas ações concretas. O “acordo do século” sintetiza as políticas estadunidenses prévias, reapresentando-as como uma bênção oficial às ações unilaterais de Israel na Palestina histórica.
Entre as ações executadas pelos Estados Unidos na última década estão o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e a transferência de sua embaixada de Tel-Aviv para Jerusalém Ocidental. A isso somou-se ainda o reconhecimento oficial da anexação por parte de Israel das Colinas de Golã e o reconhecimento público da legalidade dos assentamentos judeus na Cisjordânia. Com o “acordo do século”, os Estados Unidos chancelam as futuras políticas israelenses para a Palestina histórica, cujo objetivo é traçar o mapa político definitivo do país por meio da coerção e da consolidação de fatos irreversíveis no território.
A solução proposta tem uma natureza bastante óbvia. Seus traços principais já haviam sido revelados pelas leis racistas e agressivas de Israel aprovadas a partir de 2010 no Knesset, que incluem a discriminação dos palestinos dos dois lados da linha verde em todos os âmbitos de suas vidas, desde oportunidades profissionais e de moradia até os direitos civis mais básicos (além das já existentes expropriações de terras, punições coletivas e restrições severas à movimentação, e a qualquer atividade humana corriqueira, na Cisjordânia e na Faixa de Gaza). A onda legislativa culminou na implementação da lei da nacionalidade israelense no verão de 2018. Essa lei de apartheid deixou claro que apenas judeus podem ser reconhecidos enquanto grupo nacional com direito à autodeterminação dentro de Israel; além disso, outra cláusula oferece uma definição de “Israel” e estimula os futuros governos do país a prosseguir com a colonização judaica na Terra de Israel (ou seja, Israel e Cisjordânia). As divisas finais não são mencionadas na lei, pois se espera que o futuro Grande Israel inclua ainda parcelas da Cisjordânia — e não devem ser permitidas manifestações de nacionalismo palestino nesses territórios.

A lei rebaixou os cidadãos palestinos dentro de Israel (e qualquer pessoa que venha a ser absorvida por essa comunidade com a anexação de partes da Cisjordânia e da Grande Jerusalém) a um grupo com mera afinidade linguística, suprimindo sua condição de comunidade nacional (para sermos precisos, na língua da lei, “pessoas de idioma árabe”, e promete que o idioma gozará de um “status especial” dentro do Estado de Israel).
Trata-se de uma lei fundamental; como Israel não possui constituição, ela ganha status constitucional. Como tal, ela legitima retrospectivamente políticas colonialistas e de apartheid, vislumbrando ao mesmo tempo um futuro para Israel enquanto Estado de apartheid oficial.
Amplos segmentos da sociedade civil global criticaram e condenaram essas ações. Em anos recentes, três processos distintos erodiram a imagem internacional de Israel. São eles: o surgimento do movimento “Boicote, Desinvestimento e Sanções” (BDS), a guinada à extrema-direita do sistema político israelense e a ascensão de uma nova geração de políticos pró-Palestina no Ocidente.
A reação oficial de Israel à mudança de opinião global foi atacar, já em 2016, a narrativa e a memória coletiva dos palestinos. As lideranças políticas e estratégicas de Israel encaram a historiografia e a memória histórica como ferramentas a serem utilizadas como armas para evitar uma corrosão ainda maior da já deteriorada imagem pública internacional do país. Trata-se de uma tentativa de administrar o novo cenário despolitizando a questão palestina, em grande parte como quis o governo dos EUA ao propor seu “acordo do século”.
O ataque à narrativa se dá por meio do fechamento dos arquivos israelenses que abrigam documentos sobre a Nakba. Como relatado em uma matéria do Haaretz, em 2019, a restrição de acesso ao material de arquivo imposta por Israel integra uma operação oficial chefiada pelo Malmab (acrônimo hebraico para “diretor de segurança das instituições de defesa”), o departamento secreto de segurança do Ministério da Defesa israelense. O Malmab é uma agência clandestina de orçamento e atuação secretos, cuja existência foi revelada pela primeira vez pelo historiador israelense Avner Cohen, em um esforço de jogar luz sobre as políticas nucleares israelenses Ao longo da investigação, o Haaretz descobriu que Yehiel Horev, chefe do Malmab por duas décadas até 2007, havia iniciado a remoção de documentos dos arquivos quando ainda era líder do departamento secreto — uma prática adotada por seus sucessores até hoje. Em sua conversa com o jornal, Horev argumentou que o fechamento dos arquivos era justificável porque, caso fossem revelados, os documentos da Nakba poderiam — nas palavras do jornal — “gerar inquietação junto à população árabe do país”.
Esse é um argumento ridículo, por dois motivos: primeiro, a minoria palestina em Israel, a quem os políticos israelenses se referem como “os árabes israelenses”, trabalha de forma ativa e zelosa desde meados dos anos 1980 para conservar — e proteger — a memória da Nakba. A Associação para a Defesa dos Direitos dos Deslocados Internamente (ADRID, na sigla em inglês), que representa os refugiados palestinos dentro de Israel, foi responsável, ao lado de ativistas e acadêmicos palestinos da região, por manter o interesse público na narrativa dos palestinos acerca dos acontecimentos de 1948. Eles não precisaram de documentos israelenses para confirmar sua própria experiência de limpeza étnica. Em segundo lugar, como apontou o Haaretz, muitos dos documentos agora tornados secretos já haviam sido publicados, inclusive por alguns dos mais importantes historiadores israelenses. Horev estava seguro de que a incapacidade desses historiadores de verificar novamente os documentos iria “sabotar a credibilidade desses estudos [críticos] sobre a história do problema dos refugiados”.
Conforme observei no início deste prefácio, movimentos colonialistas de povoamento como o sionismo bebem da fonte do que Patrick Wolfe definiu como “a eliminação do nativo”. Israel, como Estado colonialista de povoamento, tem por tendência implícita o desejo de ocultar seus atos de eliminação, sobretudo em tempos nos quais o colonialismo é visto com maus olhos, e mais ainda para um país que alardeia ser “a única democracia no Oriente Médio” e um “Estado judeu e democrático”.
A limpeza étnica da Palestina em 1948 e a tentativa de apagar sua memória são parte integrante de um mesmo ato de eliminação. Como aponta Wolfe, o colonialismo de povoamento não é um evento, mas uma estrutura, e, portanto, as tentativas de eliminação já ocorriam antes de 1948 e continuam a ocorrer nos dias de hoje. Em termos mais concretos, a visão de uma Palestina “desarabizada” alimentou a conjuntura violenta e tão conhecida que marca diferentes momentos da história moderna do país: a limpeza étnica de 1948, a imposição de um regime militar a vários grupos populacionais palestinos durante os últimos 70 anos, o ataque à OLP no Líbano em 1982, as operações na Cisjordânia em 2002, o cerco de Gaza e os projetos de “judaização” em todas as regiões da Palestina histórica, para nomear apenas alguns itens de uma longa lista.
Atualmente, podemos acrescentar ao conjunto o novo projeto do “acordo do século” e o intuito de anexar parte da Área C (cerca de 60 por cento da Cisjordânia). Trata-se de uma tentativa de taxar os palestinos como povo sem direitos políticos coletivos e, ao mesmo tempo, expandir a “judaização” da Cisjordânia. Encerrar os arquivos com a remoção de materiais não secretos é parte da mesma estratégia geral de “encerrar” a questão palestina. A Palestina despolitizada não está autorizada a defender narrativas históricas que possam alimentar demandas políticas por um Estado, autodeterminação ou direito de retorno — e o governo Trump avançou com isso ao fechar a missão da OLP em Washington, transferir sua embaixada em Israel para Jerusalém, suspender o financiamento dos EUA à Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo (UNRWA, na sigla em inglês) e reconhecer como legais os assentamentos israelenses em territórios palestinos ocupados.
Como tantas vezes no passado, a interpretação israelense do “acordo” era tão importante quanto a proposta em si. Aos olhos do governo israelense, esse “acordo” garantiria legitimidade prévia à futura anexação da Área C por Israel. Em julho de 2019, Netanyahu declarou que implementaria essa parte do acordo naquele verão. Essa interpretação descartou todo o processo de negociação em torno do “acordo” — processo cujo objetivo era declarar as áreas remanescentes da Cisjordânia e a Faixa de Gaza como território de um futuro Estado palestino. Fosse ou não genuína sua decisão de anexar oficialmente a Área C, Netanyahu precisou deixar de lado esse projeto em particular. A pandemia, o êxito do governo Trump em fazer com que Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos assinassem um acordo oficial com Israel e a subsequente derrocada política de Netanyahu atrasaram a anexação, que ainda pode ocorrer.
O novo governo, liderado por Naftali Bennet, é uma coalisão bizarra entre esquerda, direita e o partido político islâmico. Desde o início do mandato, o grupo estava decidido a não mudar nenhuma política relacionada à Palestina ou aos palestinos.
Joe Biden e seu governo democrata não alteraram muito a realidade da região. Embora não adote o mesmo discurso de Trump, a atual administração, assim como as gestões anteriores, demonstra pouca oposição ao unilateralismo israelense. Se os EUA mantiverem suas diretrizes e políticas atuais, o país vai dar um passo perigoso, que afetará a região como um todo. O acordo manifestava claro desprezo pelas leis internacionais e pela justiça universal básica. Esse desrespeito às leis internacionais, por um lado, e a exclusão de Israel das conversas sobre direitos civis e humanos na região, por outro, impedirão os EUA e o Ocidente de desempenhar qualquer papel útil no combate à lúgubre realidade desses direitos na região (situação para a qual o colonialismo e o imperialismo ocidentais do passado contribuíram tanto quanto os regimes locais e grupos de oposição vigentes, que violam os direitos de seu próprio povo). Aparentemente, a sociedade civil global, que no passado obteve avanços significativos e demonstrou comprometimento com a justiça na Palestina, precisa trabalhar ainda mais duro em solidariedade ao movimento nacional palestino, que busca desesperadamente — e, até aqui, em vão — atuar de forma coesa para frustrar a próxima tentativa estadunidense-israelense de destruir a Palestina e os palestinos.
Ilan Pappe, 2021