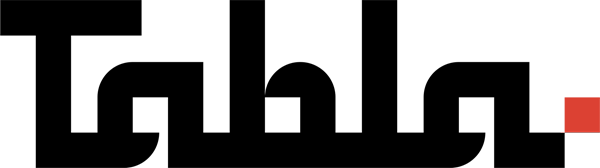A Palestina é o mundo porque amplia a possibilidade de narrar o inenarrável
Se há um século aprendemos que qualquer forma de transmissão se perdia, com a experiência da guerra de trincheiras pelo “frágil e minúsculo corpo humano” (Benjamin, 1996, p. 115), vivemos hoje a perda da experiência, quiçá, do próprio corpo, físico e social. A transmissão tornou-se morte, e a morte é a morte da transmissão. Isso não significa que não contemos estórias, que não nos debrucemos com afinco sobre os fatos e suas manipulações para trazermos à luz aquilo que não se deve duvidar: que o racismo, o colonialismo, a manipulação e dominações econômicas, o essencialismo, são inerentemente incompatíveis com a vida de um mundo livre. Nisso falhamos profundamente.
A Palestina, a Síria e o Iraque, a realidade africana subsaariana e os resquícios da França no norte do continente, a destruição dos sistemas tradicionais do subcontinente asiático e os males de origem latino-americanos; 90% de um mundo cuja história é contada, mas cujo sentido não é revelado. Permanecem obtusos, intransmissíveis. Como colonizados, ressentimos o passado, mas não ouvimos àqueles que propõem um outro presente. Ignoramos que seja possível “um mundo onde caibam vários mundos”. Olhamos, atentos, mas não ocupamos nosso papel de testemunhas de todos os massacres e horrores que se desvelam perante nós.
Buscamos a empatia, antes, um condoer-se dos males que aqueles, tão distante de nós, perduram, e com isso construímos nossa cultura, um parlatório infinito de análises e declarações sensibilizadas que visam produzir uma parcela de identificação. Ao nos colocarmos nesse lugar, capturamos as dores, e colocamo-nos no lugar das vítimas reais. E os mortos, assim, continuam a morrer.
Essa tática decorrente do parlatório é muitas vezes uma consequência não intencional de boas ações, mas nem por isso deixa de ser uma expressão clara de nossa incapacidade de transmitir algum sentido concreto sobre as catástrofes. Não só, ela é uma armadilha evidente da poderosa máquina destrutiva que impera no mundo atual, neste reino que podemos denominar a cultura, e mais especificamente, a cultura política. É esta a tática que, há 75 anos, vem se desvelando pelo sionismo, e com sucesso, para justificar todo e qualquer abuso perante uma população originária. É por essa tática que se constrói um processo de identificação com o agressor; muitas vezes, mesmo quando o denunciamos. Há sempre um componente de ressentimento e desejo de agressão que nos move a querer dominar, tanto quanto a ser dominado. E, no entanto, essa tática não é única ou exclusiva ao sionismo, mas a essa forma-fascismo que é a marca indelével da experiência humana a partir do século XX. E da qual não nos livraremos tão cedo. Não obstante, é o sionismo que se impõe como a principal força a ser combatida, mobilizando tantas outras a seu favor – o maior poder global e seus aliados, bem como seus oponentes, cujas intenções tampouco são cândidas – e com uma capacidade espúria de reverter sua denúncia em crime. Numa escala global.
Logo no começo da atual incursão sionista a Gaza, Naftali disse em entrevista a uma rede britânica, que ninguém se dedicou a tratar dos ataques aeronáuticos da RAF à Alemanha durante a Segunda Guerra. Quis com isso, provavelmente, deixar em cheque a posição do entrevistador enquanto britânico, como se o que apontasse fosse uma acusação hipócrita, dado que ele mesmo pertencia a uma nação que promovera algo semelhante e que isso não devia ser questionado dado que combatiam nazistas, algo que, segundo Naftali, Israel também está por fazer. Sua acusação não seria de todo errada não fosse pelo simples fato de que é totalmente mentirosa. W.G. Sebald, um alemão, professor na Inglaterra, seu país de adoção, dedicou ao tema um estudo estrondoso e basilar sobre o sentido da memória, do luto e do sofrimento em situações limites. Sua reflexão sobre a guerra aérea é não só um estudo do massacre de alemães perpetrado pelos ingleses, mas uma crítica ao próprio princípio de formação da realidade moderna e de sua memória como uma que o testemunho, a experiência do vivido, se recusa a habitar. Diagnostica: a realidade não pode mais ser apresentada em termos compreensíveis. Sua conclusão, e aquilo contra o qual empreenderá toda sua literatura, será que a insensibilidade se tornou o princípio operante de nossa cultura totalitária, impedindo a tomada de posição real perante os dados de horror que se desenrolam perante nossos olhos.
Insensibilidade, dizemos, e não empatia, pois esta pode ser insensível, também, e o é na medida em que se volta para esse ego absoluto que impera em nossa sociedade narcísica. Condoo-me, emociono-me, logo, sou empático, portanto, sinto a dor do outro como se fosse minha. E se é minha, tenho precedência. Essa é uma lógica e um dispositivo comum pelos quais a branquitude, por exemplo, acaba capturando as pautas de minorias, sobrepondo sua voz. Não. Antes, é da insensibilidade que Sebald trata, da incapacidade de se posicionar enquanto terceiro, enquanto alguém de fora que, perante um ato de horror precisa escolher entre fugir e fechar os olhos ou abri-los e observar, caso seja só isso o que resta a fazer. Isso é testemunhar; decidir por uma posição no momento em que a própria história corre perigo. Isso nos ensinaram Giorgio Agamben em seu livro (não surpreendentemente), dedicado a Auschwitz e Walter Benjamin, em seu testemunho sobre o conceito de história.
Aqui chegamos à questão que creio ser central para o que vemos hoje em Gaza. Há aqueles que testemunham e há aqueles que empatizam. Testemunham, no Brasil, pessoas (pensamos em pessoas com uma voz pública ampliada) como Breno Altman, que agora recebe ameaças constantes, e Salem Nasser, sujeito à perseguição acadêmica. Inúmeros e inúmeros intelectuais e ativistas testemunham, vociferando, mostrando seu rosto e elevando a voz em defesa daquilo que, inclusive do ponto vista das categorias jurídicas, há muito é considerado inescusável. Mas nada no mundo concerne às categorias jurídicas tanto quanto às categorias éticas. E é esse o nó górdio da cultura contemporânea: o ataque constante visando o esvaziamento de toda ética possível perante os exacerbados preceitos morais advindos, dentre outras coisas, de uma guerra de memória fundamentada em uma mitologia que enrijece qualquer alternativa. A sociedade, como apontava Adorno (outro filósofo judeu alemão), é naturalizada, é aceita como uma força da natureza da qual, como as intempéries do clima, tempestades, nevascas, secas e inundações, não temos escapatória. Mas mesmo essas, sabemos hoje, são intimamente conectadas a nossas ações nesse espaço-mundo. E se nem mesmo a natureza resta, que dirá a cultura? Como justificar o injustificável: que certas vidas valham mais que outras porque respondem a certo desígnio “natural”, um destino manifesto, que faz de um povo escolhido entre outros?
Alongo-me. Essas reflexões são apenas um exercício na tentativa de compreender o que mais podemos fazer perante aquilo que se torna lógica e afetivamente absurdo. E a escolha que resta, perante aquilo sobre o qual não se pode dizer, é continuar dizendo, mas talvez em nova dimensão: a do testemunho. Fazer tudo o que podemos para que as vozes narrem os horrores, não importa quão impossível seja tornar tal horror transmissível.
Nesta tarefa, a Palestina é o mundo porque amplia a possibilidade de narrar o inenarrável, porque amplia as vozes daqueles que, como os palestinos, perduram anos e anos de destruição e apagamento sem a possibilidade da expressão concreta, do trabalho da transmissão.
Mas há algo mais que torna os palestinos, e o Levante, uma imagem do contemporâneo: no jargão do campo de concentração nazista, o intestemunhável tinha nome, der Muselmann, o muçulmano. Essa coincidente nomenclatura era usada para aqueles que tinham abandonado toda a esperança, abandonados pelos companheiros, incapazes de discernir qualquer coisa, e que, dolorosamente, segundo Jean Améry, deveriam ser excluídos das considerações sobre o holocausto. Mas não segundo Primo Levi, esse homem-alegoria da sobrevivência ao nazismo, que moveu todos os seus esforços para tornar transmissível a transformação do prisioneiro em Muselmann. É essa figura que hoje irrompe do céu da política global: o muçulmano (religião majoritária do Levante, e que sofre as consequências do ódio racista anti-árabe de forma mais direta, lembremos), sintetiza a visão global dos países que deram à Europa e ao mundo a medicina, a álgebra, o algoritmo, a sobrevivência de Aristóteles e Platão, as primeiras universidades…
A Palestina, e com ela, o Levante, são o mundo porque nos dão a imagem inefável do Muselmann, da humanidade alocada ao umbral entre si mesma e o inumano. É o lugar do mundo em que, como com os povos da floresta (olhem o que acontece neste momento em Santa Catarina), a exceção se torna o paradigma do cotidiano. E se torna, como o Muselmann do campo, aquilo que ninguém quer ver.
Vejamos, entretanto. Reparemos. Não há desculpas. Tudo está dito. E tudo está posto. Bem em nossa frente.
Gustavo Racy
Gustavo Racy (São Paulo, 1988), é doutor em Ciências Sociais, especialista na obra de Walter Benjamin, pesquisador de temas de cultura e filosofia política. Junto a Yara Osman e Nasser Sawan, é organizador do projeto Al Jaliah (@al_jaliah), dedicado à memória e vivência da sociedade árabe e árabe-diaspórica, que começará a ser implementado a partir de 2024.