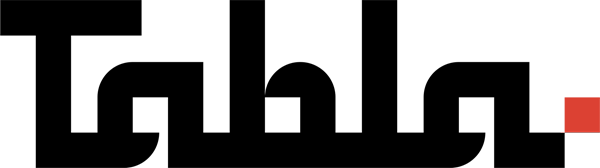Uma coisa é certa, em última análise, o homem é uma causa.
– Ghassan Kanafani
Anos atrás, seguindo o conselho de um amigo, alinhei dúzias de poemas impressos no chão a fim de encontrar um tema comum. E lá estava ela, minha avó Rifqa, em quase todos os poemas. Ela encarnou a pluralidade da Nakba e testemunhou, estoicamente, a continuidade esmagadora da catástrofe.(18) Ela se inseriu nas minhas interpretações. Tornou-se a minha bússola moral. Eu media tudo pela tragédia que ela tão teimosamente recusava. Sem dúvida, ela era a raiz do poema.
Minha mãe, Maysun, foi também poeta e publicava no jornal Al-Quds. Seus rascunhos quase sempre retornavam rabiscados pela censura militar israelense.(19) Num certo ponto, ela e o meu pai passaram a se divertir tentando adivinhar que trechos seriam cortados. Aprendi que poesia é plantar uma bomba no jardim — um disfarce. A língua não é livre.
Jerusalém era um lembrete constante da materialidade e do terror da ocupação sionista, e a minha avó representava uma época em que essa ocupação não existia. E ela se agarrou a esse tempo.
Não era apenas recordação. Na maior parte do tempo, minha avó narrava histórias da Nakba, ignorando a gravidade da situação, amaldiçoando as consequências. Ora desesperançada, ora espantando seus pesares. Vivia numa raiva fria e gasta, que poderia ter sido processada décadas atrás caso ela tivesse tido tempo de respirar. Virei a única autoridade antropológica, reivindicando suas relíquias, vivendo numa raiva fria assentada bem fundo em mim e que formatou meu cinismo. Eu me dou conta, agora, de que um livro de poesia organizado como uma ferramenta didática se tornou um livro cujo mérito reside na negação da política do apelo.
Eu tinha uns dezesseis, dezessete anos quando comecei a escrever este livro, onze ou doze quando comecei a escrever poemas cheios de erros de gramática e de digitação. A poesia era um desejo de contextualizar, de informar, de restaurar membros amputados às pessoas a quem esses membros pertenceram, para conceder nuance a essas pessoas.
No início, cometi dois erros.
O primeiro foi me adestrar a usar palavras “não enviesadas”. Aquilo a que me refiro em árabe como “entidade” virou um “Estado”. Obstinado em utilizar um vocabulário desprovido de acusação, substituí “usurpar” por “confiscar”, “expropriar” por “despejar” e “mentir” por “alegar”. Esse fenômeno é comum entre autores que escrevem sobre a Palestina, autores que cultuam a mitologia da objetividade em vez de satirizá-la. Há uma crença ingênua de que os palestinos só vão ganhar credibilidade quando forem vistos como respeitáveis. Agi assim para parecer racional e não hostil. A verdade, entretanto, é muito hostil.
O segundo erro foi o que chamo de “humanização”: retratei o meu povo somente nos moldes da civilidade etnocêntrica, subtraindo-o de sua agência. É matar palestinos a golpes de “mulheres e crianças” — infantilizar o povo palestino na esperança de determinar que ele merece, de fato, a libertação.
Essa prática de infantilização é fruto das representações de palestinos e sionistas na mídia que não levam em conta a história. Ironicamente, o regime detentor de um dos exércitos mais letais do mundo não requer humanização. O mundo é capaz de lamentar perdas israelenses sem qualificadores, apesar da disparidade do número de mortos. Em contraste, nós devemos qualificar nossos mortos com recordatórios de sua não violência, profissões humanitárias e deficiências. Um homem palestino não pode simplesmente morrer. Para que seja objeto de luto,é preciso que ele esteja numa cadeira de rodas, que tenha algum atraso de desenvolvimento; que seja um médico ou, pelo menos, muito velho. E mesmo nesses casos, a validade da sua vitimidade é questionada.
Morar quatro anos nos Estados Unidos me fez perceber que muito do que eu tentava expor já era flagrante. Essa indiferença em relação à morte de palestinos existe apesar da moralidade e dos “direitos humanos”. A humanização, quase sempre, faz o oposto do que pretende fazer. Não sinto mais a responsabilidade de ter que abrir os olhos de humanos para a humanidade.
Nas minhas revisões deste livro, tentei, o máximo que pude, garantir que as mulheres mencionadas fossem participantes ativas na sua retórica e que as suas vozes fossem ouvidas no poema; que elas não fossem apenas vítimas trêmulas como gravetos ao vento, que não fossem meros veículos para extrair empatia.
A transição da ingenuidade à obviedade flagrante veio da atitude de confrontar as coisas pela raiz. Eu sabia que devia tratar a doença em vez de punir o sintoma. Sintomas castigados só pioram. A validade da minha resistência não é mais um assunto interessante. Minha mãe uma vez disse num poema (posteriormente censurado): Um galo pede permissão para cacarejar?. Minhas convicções políticas se cristalizaram quando comecei a ostentar a reivindicação à dignidade do meu povo em vez de afundar nela.
Conceitualizei e concebi o grosso deste projeto na Palestina, especificamente em Jerusalém, Belém e Ramallah, e uma boa porção dele tanto nos Estados Unidos — principalmente em Atlanta, no estado da Geórgia, onde estudei —, como em Amã, na Jordânia, onde transitei de forma labiríntica de lá para cá. Essas geografias discrepantes me obrigaram a percorrer questões que vão além da política. A condição humana, capturada por uma tristeza paralisante ou uma raiva fria, foi o aspecto mais interessante ao longo da redação deste livro.
Acima de tudo, ainda que Rifqa não seja uma tentativa de libertar a Palestina, seu argumento principal é que a Palestina, em sua integridade histórica, deve ser libertada por todos os meios necessários. A normalização acelerada do sionismo e a negação da Nakba tornaram imperativo eu me manter firme nas minhas convicções políticas. Não há declaração mais urgente do que essa. Não há causa mais crítica. Nos meus breves vinte e dois anos de existência como sujeito, vi a Palestina encolher, tanto em tamanho como em espírito, como um ente querido que definha. Recuso-me a esperar nos escombros.
NOTAS
18 Como muitos palestinos, minha avó confrontou-se com a violência sionista, assim como com a expropriação e a limpeza étnica em dezenas de cidades por toda a Palestina histórica, durante períodos variados, como 1944, 1948, 1956, 1967, 2000, 2008 etc.
19 A censura é uma tática que o sionismo empregou intensamente ao longo da história. Em 1972, o Mossad israelense assassinou o escritor palestino Ghassan Kanafani. Em 1988, o Los Angeles Times relatou que Israel tirou o jornal Al-Quds de circulação durante quarenta e cinco dias, após o jornal publicar uma notícia idêntica a uma publicada em jornais israelenses. Mais recentemente, centenas de palestinos foram encarcerados devido a postagens em redes sociais. O caso mais conhecido é o da poeta Dareen Tatour, que foi condenada a cinco anos de prisão por ter compartilhado no Facebook um poema intitulado “Resista, meu povo, resista”.