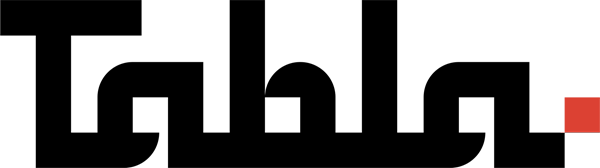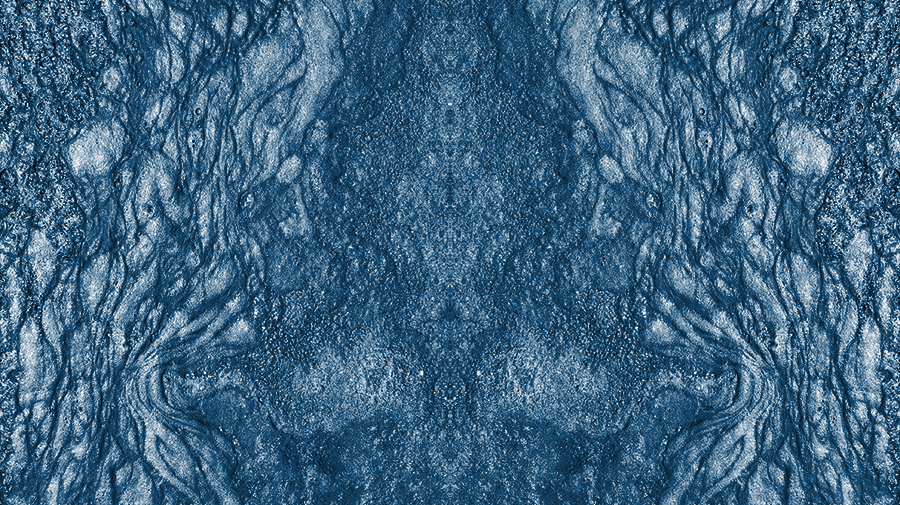Assanai, o protagonista de O tumor, do líbio Ibrahim al-Koni, desperta com uma surpresa entranhada em sua própria pele, transformando sua veste em “uma questão de pele”:
“Assanai acordou após a sesta e constatou que a vestimenta de couro se grudara em seu corpo. (…) O homem retrocedeu, parando diante de seu patrão. Agarrou a túnica pela parte superior, coroada com uma pele valiosa semelhante à da raposa, embora todos afirmassem que ela não tinha nenhuma relação com a raça das raposas. Puxou a pele com força e Assanai soltou um gemido de dor. Berrou:
— O que você está fazendo comigo, desgraçado? Quer me arrancar o ombro?”
Vivendo em um oásis tuaregue do deserto do norte africano, Assanai recebe a túnica de um mensageiro do Líder, um ser que nunca aparece e a quem todos reverenciam no deserto. A vestimenta é o símbolo de liderança do oásis, e, Assanai, que antes era considerado um canalha, transformou-se no chefe do local, apenas por portar a túnica.
“— A túnica se fundiu com a pele, meu senhor!
Assanai examinou seus braços com atenção: a valiosa vestimenta, de fato, estava grudada neles. Perscrutou o braço, e eis que pedaços de pele estavam inteiramente fundidos a ele, até o fim do pulso. Aquelas encantadoras costuras forjadas com pedaços de pele enfeitados com fio de ouro haviam desaparecido na tessitura de sua pele, tornando-se parte dele mesmo; em seu braço, a única região desnuda eram a palma das mãos e os dedos. Apalpou a túnica na altura do peito e descobriu que também ali ela se fundira à sua pele. Tentou desabotoar os botões de ouro que pendiam da gola até o umbigo e deixou escapar um grito de dor: os botões haviam brotado na pele de seu corpo, como se a imponente vestimenta houvesse desaparecido, afundando-se em sua carne; não lhe restava senão se empenhar na procura de feiticeiros, se acaso quisesse desfazer aquela odiosa armadilha.”
Rezava a lenda que a túnica era composta de peles humanas, e não de animais extintos como era propagado pelos mensageiros do Líder. O tecido da túnica era forjado, então, a partir da pele dos seus pretendentes.
“— A túnica é uma espécie de vestimenta. E a vestimenta, na Lei do deserto, deve ser a pele do homem, com a qual ele nasceu, como todo animal, e não uma pele emprestada de terceiros, uma vez que a nossa natureza é emprestada à natureza do nosso deserto. O pecado está em procurarmos roupas de estranhos para vestir, em vez da nossa pele!”
Querer ser o Líder é um grande pecado no deserto de O tumor. Tanto que um dos aprendizados dessa história, conforme ouvimos da boca do mensageiro do Líder, é: “Quem ama algo se torna parte dele!”, e a maior prova de amor seria abrir mão do apego ao poder.
Leia também: O tumor: deserto e sociedade secreta
Quero ficar no teu corpo feito tatuagem
A túnica de O tumor se imiscui na pele de Assanai como uma tatuagem, palavra derivada de “tattow”, que apareceu pela primeira vez no relato de viagem do capitão inglês James Cook, na década de 1780, a partir do termo “tatau”, do Taiti. “Os taitianos, como quase todos os povos, marcavam a pele com objetos cortantes e/ou pigmentos”, explica Silvana Jeha, em Uma história da tatuagem no Brasil (Veneta, 2019).
Os objetivos eram (e são) inúmeros, desde marcações rituais até identificação de clãs, e mesmo por mera vaidade. Também era uma forma de marcar quem devia ser considerado diferente.
“Na Grécia, usavam-se palavras de raiz stig, que quer dizer picar. Em Roma, virou sitgma. Aparentemente, os gregos não se tatuavam, mas seus textos descrevem outros povos que o faziam por motivos religiosos ou ornamentais. Eles usaram tatuagens quase exclusivamente para punir e degradar prisioneiros e escravos fugidos. Assim também fizeram os romanos, que aplicavam tatuagens na face e nas mãos dos escravos ou de pessoas punidas. Ao longo do tempo, a palavra ‘estigma’ tornou marca de infâmia e foi deixando de significar ‘marca no corpo’”, continua Jeha em seu livro.
Seguindo esse raciocínio, a túnica de O tumor poderia ser vista como uma forma de marcar aqueles que, de alguma forma, traíram o Líder, por amar mais a túnica do que a ele. Ao mesmo tempo, é interessante pensar no significado tradicional entre os tuaregues, um dos povos berberes do norte da África, também chamados de “amazigh”, o “povo livre”. Uma prática bastante comum entre esses grupos, desde a era pré-islâmica, era que as mulheres tatuassem partes do rosto, das mãos, dos braços e dos pés como um marcador social. Os desenhos ajudavam a distinguir entre clãs e grupos e apontar status social e de fertilidade, além de funcionarem como ornamento. Um “reflexo das maravilhas do corpo humano”, conforme descreve o filósofo marroquino Abdelkebir Khatibi.
Ou então, como afirmou o filósofo marroquino Abderrahim El Atri ao TRT Arabi, “as tatuagens representam a energia sobrenatural em todas as coisas”. Tanto que muitas mulheres eram marcadas por se acreditar que as tatuagens teriam algum poder curativo ou sobrenatural. Os homens também se tatuavam, de forma mais discreta. Músicos marcavam as mãos para ganhar mais agilidade ao tocar instrumentos musicais. Em algumas áreas rurais, é possível encontrar rapazes com tatuagens que reforçam a sua linhagem tribal.
Entre os amazigh, as tatuagens foram perdendo força a partir da década de 1970, com a morte dos mais velhos e com a urbanização dos países do norte africano.
A pele como mercadoria
Em O tumor, quando se percebia que o Líder fora traído pelo seu representante portando a túnica, um mensageiro era enviado com alguns capangas (djinns, talvez?) para retirar a vestimenta de quem a usava. A pessoa era esfolada viva, e, daí, poderia morrer de hemorragia ou de tristeza, por se ver privada da túnica. Assanai tenta de todas as formas evitar esse destino cruel.
Em um filme chamado O Homem que Vendeu Sua Pele, da tunisiana Kaouther Ben Hania, indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, a pele que envolve o corpo do refugiado sírio Sam Ali vale mais monetariamente falando do que a sua própria vida. Ele fecha um acordo com um artista belga, que afirma querer comprar as suas costas para fazer uma obra de arte sobre ela: uma enorme tatuagem de um visto do Acordo de Schengen –– o documento mais cobiçado por refugiados, pois possibilita a entrada na Europa. Como ser humano, Sam não obtém esse visto; como mercadoria, ele pode circular livremente entre as fronteiras europeias. Um dos termos do contrato é que, quando Sam morrer, ele deixará que retirem a pele das suas costas para ser exposta em museus pelo mundo.
Leia também: O pequeno imigrante
As roupas envenenadas
Outro mito que podemos lembrar ao ler O tumor é o da “roupa envenenada”, presente em duas importantes histórias da mitologia grega. É com um vestido envenenado que Medeia (a minha personagem preferida da mitologia) presenteia Glauce, a filha do rei Creonte, que vai se casar com seu marido Jasão, em Cartago. A princesa, ao se encantar com a roupa, logo a veste para morrer em seguida.
Algo parecido acontece com Hércules (ou Héracles), que morre ao trajar o manto de Nessus. Sua mulher, Djanira, havia sido enganada pelo centauro Nessus, que, nos últimos momentos de vida, a convence a guardar um pouco do seu sangue mágico para banhar um manto a ser dado para Hércules, a fim de garantir a sua fidelidade marital. Djanira, então, com medo de que fosse traída, entrega ao marido o manto que, na verdade, contém veneno do sangue do centauro.
No Império Mugal, na Índia, há indícios de que alguns reis valiam-se de khilats (túnicas de honra) envenenados para assassinar seus inimigos. Mas essa tática chegou a ser usada na realidade com os mantos e roupas tomados com varíola, sendo uma forma perpetrada pelos invasores europeus de exterminar as populações indígenas das Américas.
Em si, a túnica de O tumor não é envenenada, mas ela carrega o simbolismo que envenena a alma de quem a veste e corrompe a todos com o poder que lhe é atribuído.
Paula Carvalho
Paula Carvalho é jornalista, doutora em História pela UFF e autora do livro “Direito à Vagabundagem: As viagens de Isabelle Eberhardt”