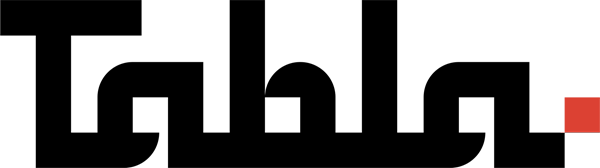Texto do escritor Milton Hatoum “Vozes palestinas da memória” publicado originalmente na revista Quatro cinco um.
Encontros inesperados são antigos motivos literários. Por acaso, Elias Khoury, escritor e professor de literatura em Nova York, conhece Adam Dannun, um vendedor de faláfel e sócio de um restaurante. Adam fala fluentemente árabe e hebraico, e Khoury não sabe se ele é palestino ou judeu israelense. Essa é uma das ambiguidades deste romance monumental, em que a fábula se mistura com a História, a imaginação com a memória, a vida particular dos personagens com a tragédia de todo um povo.
Uma semana antes de morrer num incêndio em seu apartamento nova-iorquino, Adam Dannun entrega uma carta-testamento a sua amiga coreana Sarang Lee, também amiga de Khoury e aluna deste. Na carta, Adam pede à moça que queime seus cadernos com os manuscritos de um romance; mas, em vez de queimá-los, ela os entrega a Khoury, que decide publicá-los na íntegra, sem interferir no texto. Esses manuscritos compõem o romance Meu nome é Adam, primeiro volume da trilogia “Crianças do gueto”.
No longo preâmbulo escrito por Adam, o leitor se depara com uma história do poeta pré-islâmico Waddah do Iêmen. Trata-se de uma narrativa mítica, fonte primordial de toda literatura. Aliás, um mito belíssimo e terrível: o poeta apaixona-se por Rawda, a esposa do califa; Waddah passa o dia no quarto dela e, durante a noite, esconde-se num baú. O califa, que tem seu próprio quarto no palácio, desconfia que alguém está escondido no baú e então decide colocá-lo num poço, debaixo do quarto da esposa. O amante não diz, ou não pode dizer, nada. Morre afogado, em silêncio. O baú torna-se seu túmulo e o mito, uma metáfora poderosa de Meu nome é Adam.
Romances complexos no plano da linguagem e instigantes em seus meandros temáticos são convites à releitura. É o caso de Meu nome é Adam, em que intertextualidade e referências históricas e literárias são recorrentes. Em seus manuscritos, Adam tece críticas “violentas” ao romance Porta do sol, outra grande obra de Khoury. Essa autoironia faz sentido, pois Meu nome é Adam dá sequência a Porta do sol. Neste, os personagens são palestinos exilados em campos de refugiados no Líbano. Em Meu nome é Adam, o cenário é a própria Palestina em 1948, ano da Nakba (“catástrofe” em árabe) e da fundação do Estado de Israel. Em julho daquele ano, centenas de moradores da cidade de Lidd foram massacrados por soldados israelenses. Adam era um recém-nascido, e o que ele conta em seus cadernos são as memórias de sua mãe (Manal), do ex-marido dela (o cego Mamun) e de outros palestinos que testemunharam o massacre e a expulsão de seus conterrâneos. Uma parte até então oculta da história da catástrofe palestina é narrada por várias vozes e pela imaginação de Adam. A Mesquita — espaço sagrado de Lidd — torna-se um dos círculos do inferno e a cidade, um gueto. O narrador lembra que “gueto”, uma palavra europeia, era pronunciada por militares israelenses; os palestinos a desconheciam e a traduziam por “quarteirão”. Essa palavra trará desdobramentos reais e simbólicos para Adam, que foi encontrado, recém-nascido, ao peito de sua mãe morta, debaixo de uma oliveira, depois do massacre.

Leia também: O poeta está morto: Elias Khoury lembra de seu amigo Mahmud Darwich
Ao sair do gueto de Lidd para Haifa, Adam aprende hebraico e ingressa na universidade. O rapaz alto e magro, cabelos louros e encaracolados, se diz polonês e “filho do gueto”, que os estudantes e professores judeus entendem como Auschwitz. Em Haifa, apaixona-se por uma judia e, quando se separam, ele migra para Nova York.
Khoury explora em profundidade esse jogo complexo de identidades, que tem menos a ver com origens (religiosas ou étnicas) do que com o processo histórico-político movido por forças colonizadoras que ocuparam a Palestina. Nesse jogo especular, a nova identidade de Adam aponta para uma trágica inversão de valor moral: as vítimas de um passado recente tornam-se algozes de um povo que não teve responsabilidade alguma pelo Holocausto, praticado por Estados europeus cristãos e antissemitas.
Adam comenta obras já clássicas sobre esse tema, como a do historiador israelense Ilan Pappe e a de Edward Said, que, em A questão da Palestina, dedica o segundo capítulo — “O sionismo do ponto de vista das vítimas” — a um estudo detalhado da ideologia e do movimento político-religioso que impulsionaram a ocupação e a colonização da Palestina. Adam evoca também a novela Khirbet Khizeh (1949), obra-prima do israelense Samech Yizhar sobre a destruição de um vilarejo palestino, narrada por um soldado judeu.
Memória
Meu nome é Adam talvez seja o primeiro romance sobre um gueto palestino. Os sobreviventes que, obstinadamente, decidiram permanecer em sua terra contam histórias sobre o cerco a Lidd, o assalto à mesquita e a matança de centenas de moradores da cidade. Como Adam era um recém-nascido, ele recorre à memória dos outros. “O esquecimento é uma das formas da memória”, escreveu J. L. Borges. Essa contradição, que é apenas aparente, dá sentido à história de Adam e da Palestina. Daí a centralidade da memória, do silêncio e do esquecimento, evocados tantas vezes por Adam: “Eu, como todos os palestinos que perderam tudo quando perderam sua terra natal, não jogo fora nada ligado à nossa memória fugidia, pois somos escravos dessa memória”. Ou neste trecho autoirônico, em que a memória do narrador envolve o leitor, a passagem do tempo e o próprio ato da escrita:
“Escrevo a história para restaurar minha memória e gravá-la na memória de um leitor imaginário que essas palavras nunca alcançarão, pois não tenho certeza se quero que elas os alcancem. Mas qual é o significado da memória? Para um acontecimento, ou um indivíduo, permanecer na memória, ele deve ser transformado numa linha escrita envolta numa espécie de neblina. O que lembramos dos nossos entes queridos que partiram? O que lembramos dos momentos de amor roubados? […] Gravar na memória é uma forma de esquecer. No curso do esquecimento, lembramos.”
O trecho aponta para o verso de Borges e também dialoga diretamente com a prosa poética do livro Memória para o esquecimento, em que Mahmud Darwich narra sua experiência durante o cerco a Beirute em 1982.

Leia também: Elias Khoury sobre Kanafani: como a nação nasceu da contação de histórias?
Esquecer para depois inventar, na escrita, as lacunas do esquecimento. Para tanto, é necessário ouvir a voz e ler as palavras dos outros. Em sua infância e juventude, Adam ouvia histórias sobre Manal. Mas, quando as relembra tanto tempo depois, elas parecem fragmentadas, descontínuas, permeadas de silêncio: “Teço a memória do silêncio das palavras da minha mãe”. A memória dá um novo conteúdo e substância ao tempo presente, e faz mais sentido quando o perturba e ilumina.
Mamun, o segundo marido de Manal e padrasto de Adam, é um professor no Cairo. Velho e cego, esse sobrevivente de Lidd dá palestras sobre a obra poética de Darwich. Adam tinha sete anos quando Mamun abandonou para sempre a família e a Palestina. Quase meio século depois, quando eles se encontram em Nova York, Mamun relembra várias histórias: o nascimento de Adam, os detalhes do massacre no verão de 1948, quando “mais de cinquenta mil seres humanos foram obrigados a deixar Lidd pela força das armas e pela violência”. É impossível não se comover com certas passagens, como a da “dança da morte” em Lidd, que será reencenada, em setembro de 1982, nos campos de refugiados de Sabra e Chatila (Beirute). Um episódio em que mais de 2 mil palestinos, incluindo mulheres, crianças e idosos, foram massacrados por milícias libanesas cristãs, sob a supervisão e cumplicidade do Exército israelense, que invadira o Líbano naquele ano.
Também por acaso, Adam conhecerá outro sobrevivente de Lidd, exilado em Nova York. Aos poucos, as vozes de testemunhas da tragédia se multiplicam e rompem o silêncio, ou o silenciamento imposto pelo opressor. Não se trata apenas da indiferença, da autocensura ou da manipulação de boa parte da grande mídia. O que o romance examina em profundidade é o que ainda não havia sido narrado sobre os acontecimentos de julho de 1948, como se os próprios palestinos desconhecessem os meandros e detalhes de sua história, dilacerada pela brutalidade do colonialismo.
Por vários anos, Khoury trabalhou em campos de refugiados no Líbano e conviveu com palestinos. Certamente essa experiência foi importante para que ele escrevesse Porta do sol, o romance criticado por Adam. Essa duplicidade ou espelhamento entre Khoury e o autor de Meu nome é Adam vem de uma longa tradição literária. Basta lembrar que em Dom Quixote esse recurso paródico é usado com sarcasmo. Não por acaso, Adam cita a obra-prima de Cervantes, justamente na passagem em que o narrador encontra em Alcaná de Toledo um manuscrito árabe do historiador Cide Hamete Benengeli, autor do Dom Quixote.
Além da paródia, a intertextualidade tem um papel relevante na narrativa. As menções ao Corão, à Bíblia, a livros de historiadores, poetas, ficcionistas e críticos literários não são gratuitas, pois integram organicamente o assunto central: a catástrofe de Lidd e da Palestina, cujas consequências nefastas, que envolvem sofrimento, mortes e desespero, ainda perduram. Por isso Adam tenta explicar para Dália, sua namorada judia, as operações suicidas de jovens palestinos: “Esse desejo de matar não nasceu das memórias da Nakba, como alguns pensam; é a Nakba vivida, pois Israel transformou a vida de três gerações de palestinos numa catástrofe ininterrupta”.
A relação amorosa com Dália é verdadeira, mas quando ele ingressa na Universidade de Haifa, inventa uma história para si mesmo: diz que é judeu, de família polonesa. Essa nova identidade étnico-religiosa é uma tentativa de ser aceito na comunidade acadêmica e se integrar no Estado recém-fundado. Mas a dupla identidade é marcada por uma cisão dilacerante: o palestino apátrida torna-se um ser errante, assombrado por uma memória fugidia, que só pode encontrar abrigo na escrita e na morte.
Os narradores se dão conta de que, ao pensar nos fatos do passado, as lembranças saíam deformadas, sendo difícil evocá-las com precisão. Cada narrador ou narradora — incluindo Adam — transforma as lembranças opacas em matéria literária, como se a passagem do tempo multiplicasse os possíveis do vivido e aprofundasse o palco dramático da subjetividade.

Diáspora, exílio, Holocausto
Um dos pontos altos do romance, e talvez o de maior complexidade, é a abordagem da diáspora, do exílio e do Holocausto. Ao comentar o artigo de um médico que socorrera os feridos em 1982 em Beirute, Adam escreve:
“Ele [o médico] estabeleceu um paralelo entre a forma como os nazistas trataram os judeus durante o Holocausto e os métodos usados no massacre de Sabra e Chatila. Não gosto desse tipo de comparação. Priva as coisas de seu significado e transforma a relação do homem com a história numa relação chata, inocenta o criminoso de um jeito oblíquo, tornando-o apenas uma cópia de algum outro criminoso, e trata os crimes de guerra como se fossem inevitáveis. Transforma as vítimas em números, ignorando sua singularidade e a singularidade da tragédia de cada um.”
O empenho de Adam é justamente narrar a particularidade da tragédia palestina, numa relação tensa entre o silêncio e as muitas vozes da narrativa; nessa tensão se aninha a cisão mais profunda da alma de Adam, que encarna todas as contradições de ser palestino na terra que lhe foi usurpada. Daí este diálogo revelador com sua namorada, Dália, que lhe fez “uma pergunta surpreendente”:
“’Se você pudesse nascer palestino ou judeu israelense, o que escolheria?’
Eu disse a ela que a escolheria.
‘Isso significa que você escolheria ser um israelense?’
Respondi: ‘Tentei ser um israelense, mas não consegui. Um palestino só pode escolher ser o que ele é. Mas sei lá!’
Ela disse que, se eu tivesse lhe perguntado, ela teria respondido sem hesitação que escolheria ser palestina, pois preferia ser a vítima.
Argumentei que ela dizia isso porque a opção não estava disponível, o que lhe permitia usufruir tanto das virtudes da vítima quanto dos privilégios do carrasco.
Ela disse que eu não a entendia. ‘O tempo vai ensiná-lo a entender, e, quando você chegar a esse momento, vai descobrir que todo ser humano é filho de um exílio permanente. Essa, na minha opinião, era a condição existencial dos judeus antes de Israel acabar com ela em favor de uma existência absurda desprovida de significado.'”
“Todo ser humano é filho de um exílio permanente.” Essa frase de Dália parece evocar um dos mais belos ensaios de Edward Said, Reflexões sobre o exílio, título de um de seus livros. Dália, uma das personagens centrais, que certamente reaparecerá nos outros volumes da trilogia, dá densidade à história entrelaçada de judeus e palestinos, que opera com uma mescla de identidades e destinos.
Leia também: Elias Khoury, o gueto e a dança da morte
Olhares cruzados
Na introdução aos manuscritos de Adam, Elias Khoury cita o filme israelense Olhares cruzados, exibido em Nova York. Adam irrita-se com as distorções desse filme, e só depois o leitor entenderá o motivo. Mas o título já sugere muita coisa: olhares e vozes cruzam-se em tempos diferentes, num movimento cíclico e repetitivo, mas não linear. Ainda na introdução, Khoury diz que os cadernos de Adam “contêm textos incompletos, uma mistura de romance e autobiografia, de realidade e ficção, de crítica literária e literatura”. Essa mistura de modos de discursos e linguagens me parece relevante para a configuração do romance. Adam começa com o relato de um mito — a poesia de amor cortês de Waddah do Iêmen —, mas o interrompe para escrever, “sem adornos”, suas memórias. O mito funciona como um modelo arquetípico de narrativa e será importante para a elaboração do enredo e do significado simbólico de Meu nome é Adam. A vida do protagonista, desde o início da colonização da Palestina, é o foco principal do romance, cuja feição realista enfatiza cenas concretas de violência, assassinatos, expulsões e humilhações. O mito épico — a morte silenciosa do poeta Waddah no baú jogado no poço — simboliza também a descida ao mundo da morte, infernal, reencenado nas particularidades históricas que Elias Khoury conhece muito bem. As vozes dos sobreviventes e dos mortos juntam-se num mesmo coral agônico, orquestrado por Adam:
“Em vez de matar a memória com a metáfora, como tentava fazer por meio do meu abortado trabalho de ficção sobre Waddah do Iêmen, vou escrevê-la, transformando-a num cadáver feito de palavras.”
Tradução
Walter Benjamin assinalou que a tradução expressa a mais íntima relação entre duas línguas, instaurando uma convergência original entre elas. Ainda segundo o filósofo alemão, essa relação consiste no fato de que as línguas não são estrangeiras umas às outras; mas, a priori, abstração feita de todas as relações históricas, elas são aparentadas no que querem dizer. Penso que a notável tradução da professora Safa Jubran se ajusta a esse postulado benjaminiano. Safa, que já traduzira Porta do sol e Yalo, de Khoury, revela mais uma vez seu imenso talento ao instaurar uma convergência original entre o árabe e o português. A tradução tem o mérito de captar o ritmo, as imagens, as diferentes tonalidades de vozes do texto original. O leitor percebe isso até mesmo nas passagens mais difíceis, como nos solilóquios de Adam e nos trechos em que a prosa se torna poética, alcançando um raro senso plástico, sem, no entanto, perder o sentido da busca do narrador: a compreensão da catástrofe da Palestina. A história que foi silenciada será, no fim da leitura deste romance perturbador, ouvida pelos leitores.
Leia o texto original publicado na Revista quatrocincoum aqui!