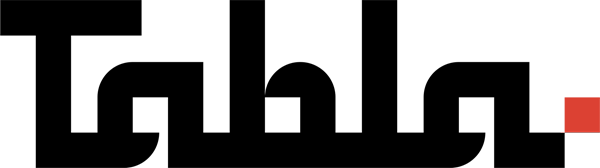“Umm-Hassan morreu.” É assim que começa o épico Porta do sol, do escritor libanês Elias Khoury, que conta a saga de um campo de refugiados palestinos no Líbano. Em Meu nome é Adam, primeiro volume da trilogia “Crianças do gueto” e a estreia de Khoury na editora Tabla, nos encontramos de novo com essa personagem, uma das vítimas do massacre dos campos de refugiados palestinos de Sabra e Chatila, ocorrido em setembro de 1982, durante a Guerra Civil do Líbano. Os assassinatos foram perpetrados pelas forças libanesas ligadas a Bashir Gemayel, líder da Falange, partido cristão que havia se aliado aos israelenses, depois do assassinato de Bashir em um atentado com um carro bomba. O massacre de Sabra e Chatila foi realizado sob supervisão israelense – os oficiais soltavam sinalizadores durante a noite para que os falangistas pudessem ter visibilidade para perpetrar o assassinato em massa dos palestinos.
Em Meu nome é Adam, esse terrível episódio é revisitado pelo protagonista Adam Dannum, através de um artigo de autoria de um médico que estava nos campos durante o massacre. Em seu comentário sobre o texto, Adam se mostra surpreso com a descrição dos últimos momentos das vítimas palestinas, que foram forçadas a dançar e a bater palmas na sua marcha final do campo até a Cidade Esportiva. Aqui vale a longa citação do artigo, que menciona outro personagem de Porta do sol, Khalid Ayyub:
“Eram sete e meia da manhã de sábado, dia 17 de setembro de 1982, o último dia do massacre. Ouvimos os alto-falantes convocando as pessoas a deixarem sua casa e caminharem em direção à Cidade Esportiva. Eu fui com os outros, e caminhamos. Era uma multidão. O campo, que fora coberto pelo silêncio, abriu-se de repente, revelando um número enorme de pessoas, que caminhavam como ovelhas. Estávamos ladeados por homens armados, e o homem com os óculos escuros segurava um alto-falante e dava ordens: ‘Batam palmas!’, batíamos; ‘Não estou ouvindo bem, quero palmas mais fortes!’, batíamos mais forte; ‘Digam, viva Bachir Gemayel’ — dizíamos; ‘Digam, morte para Abu-Ammar’, repetíamos; ‘Mais alto!’, aumentávamos a voz. Caminhamos, aplaudimos e gritamos, ao mesmo tempo que os homens armados puxavam grupos de jovens para o acostamento, ordenavam que se deitassem no chão de bruços e atiravam neles. Foi, doutor, uma marcha de aplausos, lemas e massacre. Mas isso não foi suficiente para eles. Quando a marcha chegou à estátua de Abu-Hassan Salama, eles nos fizeram parar, e ouvimos o alto-falante que nos mandava dançar. ‘Dancem, seus filhos da puta! Quero ver seus corpos sacudirem!’ O assombro nos assombrou. Ninguém se mexeu ou emitiu um som. Silêncio total, que foi interrompido apenas pelo som de balas atiradas para alto pelo general, do seu rifle M16. E, ao som de balas, avistamos Umm-Hassan. A senhora de setenta anos, que tinha amarrado a cabeça com um lenço branco, emergiu por entre as fileiras do povo, e seu corpo inteiro, que estava coberto por um longo vestido preto, começou a dançar, no início com timidez, e depois foi ganhando velocidade até que ela parecia um círculo girando em torno de si mesma. Como posso lhe descrever a cena, doutor? A imagem daquela mulher, cujo corpo se retorcia ao ritmo das balas, me ocorre coberta de lágrimas, e o tamanho relativo das coisas se torna confuso. Vejo seu corpo ficar fino como um fio, em seguida se ampliar e esticar, o branco do lenço de cabeça espalhando-se sobre o preto do vestido, e tudo gira. E eu vejo seu rosto, no qual os anos gravaram histórias, revelar um sorriso misterioso. Você não conhece Umm-Hassan. Se quiser, posso apresentá-lo a ela, pois sempre vem visitar Yunis. Ela é como uma mãe para mim, na verdade é minha mãe e é a única parteira legalizada daqui, todas as crianças do campo caíram do ventre da mãe por suas mãos.
“Quando vimos Umm-Hassan dançando, a febre da dança nos acometeu, e todo mundo dançou. Para ser honesto, dancei sem tomar nenhuma decisão de fazê-lo. Eu me encontrei dançando, e não me pergunte quanto tempo dançamos porque não sei. O tempo desaparece apenas em dois momentos: na dança e na morte. Então, imagine quando os dois se juntam! Estávamos dançando e morrendo, doutor, e só nos demos conta das cicatrizes na alma depois que tudo acabou e descobrimos que todos nós tínhamos morrido. Você está certo, ninguém tem o direito de converter a morte em números. Mil e quinhentas pessoas morreram aqui, como contam, mas o número não diz nada, porque todos morreram aqui. A totalidade da humanidade morreu naquele momento de dança, quando alguns eram levados para a parede de execução ainda dançando. Naquele momento, eles me levaram. Puxaram-me da dança para a morte, mas não morri. Umm-Hassan dançou até cair no chão. Então, as pessoas ouviram tiros e disseram que a mulher tinha sido morta, mas, como eu e a maioria dos outros, ela morreu e permaneceu viva.”
De acordo com Adam, Elias Khoury omitiu a dança de Umm-Hassan na hora de sua morte, não descrevendo o episódio. Aparentemente não se encontram descrições dessa dança da morte nos livros de história sobre o massacre de Sabra e Chatila. Pode ser que tenha sido registrado em relatos orais, ou foi uma criação fictícia do autor libanês (se alguém souber de mais detalhes sobre isso, por favor, me conte). De toda forma, é uma imagem forte que retorna de novo em Meu nome é Adam.
Dessa vez, é no gueto de Lidd, criado pelo exército israelense seguida à Nakba, em 1948, em que palestinos foram reunidos como animais em torno de um arame farpado. Uma mulher, segurando sua filha pequena nos braços, dançou na frente dos soldados israelenses que vigiavam o gueto:
Manal disse que a mulher ficou louca, ergueu a filha e começou a dançar. Dançou como se ouvisse uma batida de tambor nos seus ouvidos e começou a rodar em torno dos soldados, que ficaram imóveis, perplexos.
Ela dançou com as lágrimas escorrendo pelo rosto, gritando: “Leva ela! Eu quero morrer!”, enquanto as pessoas assistiam. Até Khalid Hassuna ficou lá, sem saber o que fazer, então desatou a chorar quando se aproximou da mulher, puxou a menina das suas mãos e sentou-se no chão.
As pessoas se perguntaram onde estaria o marido da mulher, e ela respondeu prontamente: “Meu marido foi morto na porta da mesquita e me deixou o menino e a menina. Eles levaram o garoto para matá-lo, então o que eu devo fazer? Que me matem e acabem com isso”.
Manal não sabia como Khalid Hassuna conseguiu acalmar a mulher e enxugar suas lágrimas, porque naquele momento todo mundo se distraiu, pois Hajj Iliya gritava na cara do oficial.
Valsa com Bashir
A cena da dança retorna com ênfase no filme israelense Valsa com Bashir, de Ari Folman (2008), em que um soldado israelense rodopia desviando-se das balas durante o cerco de Beirute, em 1982, enquanto, com a metralhadora em punho, atira balas a esmo diante de cartazes com o rosto de Bashir Gemayel:
O filme, assim como Meu nome é Adam, trabalha com a reconstrução da memória – no caso de Valsa com Bashir: o diretor Ari Folman tenta relembrar da sua participação diante das atrocidades perpetradas em Sabra e Chatila. O título dessa animação-documentário faz justamente referência à aliança que Israel fez com a Falange de Bashir Gemayel, durante a invasão israelense ao Líbano para capturar lideranças da resistência palestina na Guerra Civil Libanesa.
A dança aqui é protagonizada pelo soldado israelense e sela o pacto entre israelenses e falangistas. Como os palestinos que dançaram antes de morrer, mesmo os que continuaram com vida, os soldados israelenses também morreram ao se tornarem coniventes diante do massacre nos campos de refugiados e de criarem guetos de palestinos para construir o Estado de Israel. Como Frantz Fanon afirma, a violência desumaniza não apenas a vítima, mas também seu perpetrador.
De espetáculo à doença
Ainda pensando na dança como um prelúdio da morte, é possível lembrar da epidemia de dança de 1518 que acometeu parte da população da cidade francesa de Estrasburgo. Nesse caso, várias pessoas atravessaram noites dançando sem parar até a total exaustão ou até a morte.
Segundo o físico Paracelso escreveu na década de 1530, a praga começou quando uma mulher saiu de casa sozinha e começou a dançar por vários dias. Depois de uma semana, dezenas de outras pessoas uniram-se a ela, sendo um espetáculo de tortura para quem assistia. Os médicos da época, sem conseguir explicar o que estava acontecendo, sugeriram que as pessoas continuassem dançando até que a “doença” saísse do organismo, o que levou muitas à morte. Diante desse resultado, os médicos declararam que quem foi atingido pela praga foi vítima de uma “ira divina”. Como tratamento para levar à cura, os dançarinos foram levados até um santuário dedicado a São Vito, onde vestiram sapatos vermelhos e dançaram em torno de uma estatueta de madeira do santo. Nas semanas seguintes, a epidemia chegou ao fim.
Esse surto de “histeria coletiva”, como foi diagnosticado esse episódio posteriormente, remete a um dos contos mais terríveis de Hans Christian Andersen: “Sapatinhos vermelhos”, em que uma jovem resolve usar um par de sapatos vermelhos e, quando ela começa a dançar, é impossível parar. Os sapatos passam a controlá-la, e ela dança até a exaustão, sendo condenada a dançar até depois da morte. Desesperada, a garota pede para um homem amputar os seus pés, que, mesmo fora do seu corpo, continuam a dançar freneticamente.

A dança como espetáculo que leva à morte reaparece nas maratonas de dança que viraram febre nos Estados Unidos nos anos 1920 e 1930, durante a Depressão americana. Nos primórdios da indústria do espetáculo, esse precursor dos reality shows (e de Jogos vorazes) fazia com que casais chegassem a dançar de três a cinco meses, com apenas um descanso de dez ou quinze minutos por hora. Os competidores tomavam banho, liam jornal e comiam enquanto dançavam, e, de acordo com as regras, se os joelhos tocassem o chão, eram desclassificados.
A competição virou uma febre durante a Depressão Estadunidense, em que várias pessoas miseráveis se inscreviam não só para concorrer a um prêmio em dinheiro para o casal vencedor, mas também para terem alojamento e alimentação (havia cerca de doze refeições diárias) durante um período de tempo. Uma dessas competições chegou a receber 12 mil pessoas em Nova York, torcendo para seus casais preferidos, que podiam receber patrocínios.
Para espetacularizar ainda mais a competição, as danças eram entremeadas por apresentações musicais e teatrais realizadas pelos próprios competidores, que recebiam moedas jogadas pelo público, e alguns casamentos eram arranjados na própria pista de dança. Muitas pessoas caíam de exaustão e outras chegavam a morrer. Um espetáculo para as massas em um dos momentos mais decadentes do capitalismo.
Essa atmosfera foi incrivelmente captada pelo filme A noite dos desesperados (1969), de Sydney Pollack, com atuações inesquecíveis de todo o elenco, em especial de Jane Fonda, adaptação cinematográfica do livro They Shoot Horses, Don’t They? (1935), de Horace McCoy.
Uma das cenas mais marcantes é das corridas que acontecem ao longo da maratona para trazer mais emoção para a competição. Ao longo de alguns minutos, os casais já exaustos têm que correr, ao som de uma música frenética, para não ficarem nos três últimos lugares, que são automaticamente desclassificados.
É a dança pela vida que leva à morte.
Paula Carvalho
Paula Carvalho é jornalista, doutora em História pela UFF e autora do livro “Direito à Vagabundagem: As viagens de Isabelle Eberhardt”